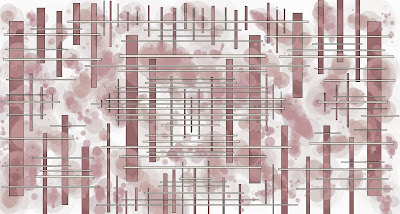Translate
domingo, 30 de abril de 2017
Entrevista a Sebastien Void - XXXIV
XXXIV
Rui Carvalho: os conceitos de utilidade e inutilidade são conceitos fulcrais à compreensão da sociedade contemporânea e à compreensão do seu modo de funcionamento. O útil e o inútil são estigmas sociais que nos tornam vitimas indefesas da estupidez?
Void: a utilidade é um conceito “burguês” que surge ou se torna premente logo após a revolução industrial. Útil é tudo aquilo que nos serve o dia a dia. A partir do momento em que nos tornamos escravos do trabalho automático e automatizado tudo aquilo que temos acesso é ao dia a dia. Nada mais, nada menos. O dia a dia não nos sobra tempo. Somos carcomidos pelo dia a dia até nos tornarmos meros cadáveres adiados. Somos gravitados em torno do dia a dia. Gravitados em torno do dia a dia tudo aquilo que nos serve terá necessariamente que servir o dia a dia. Ora o que é isso de servir o dia a dia?
Servir o dia a dia implica agir como autômato. Todas as nossas “acções” são automatizadas ao ponto de não pensarmos, sequer por um segundo, a razão de ser dos nossos actos. O dia a dia ocupa-nos, e ocupa-nos o tempo todo, o tempo inteiro. No dia a dia é como se já não houvesse tempo, como se tivesse deixado de haver tempo. O dia a dia hipnotiza-nos de tal modo que somos levados a achar que já não há tempo que nos reste, que nos sobre.
É deste modo que arte se torna a sobra dos dias. Acercamo-nos da arte como alguém se acerca de algo inútil. A nossa utilidade é posta à prova no modo como operamos as coisas úteis do dia a dia.
Levados na automaticidade das coisas é como se fossemos levados na maré do mundo. É esse ir e vir nas ondas que enforma as nossas vidas. Essa é uma das formas da estupidez. Esse ser levado na maré do mundo, como uma mera gota de uma enorme onda que nos sufoca. Contudo, somos incapazes de sentir esse sufocar, esse sufocamento. Tal ocorre porque somos drogados na distração. A distração é o instrumento fulcral ao funcionamento das sociedades contemporâneas. Qualquer tempo livre, todos os tempos livres nos são oferecidos ou impostos como formas de não pensar, de não exercermos o pensamento.
O pensar aprende-se, e aprende-se fundamentalmente a partir da prática, do exercício. Tal como acontece com o aprender a ler e a escrever, há instrumentos que nos são dados, o alfabeto, a numeração e as palavras que a partir dai se geram. Contudo, todo o esforço tem que ser nosso. Somos nós que temos que nos deslocar com os instrumentos dados e a partir dos instrumentos dados, até alcançarmos o lugar, a perspectiva mais adequada à percepção do mundo. Contudo, tudo isso dá trabalho, dá mesmo muito trabalho, e tudo que temos é o dia a dia. O dia a dia e a estupidez das distrações mais imediatas. Como não sermos estúpidos? Como não sermos soterrados na estupidez?
Regra geral, o único acto que é praticado pelo cidadão comum é o acto plebiscitário. E ainda assim não parece que o mero acto de votar se possa constituir como uma acção. Na maioria dos casos as pessoas são meramente induzidas a votar, não têm sequer noção do fundamento ideológico do seu voto, até porque, a cada rajada dos mercados, a ideologia partidária é cada vez menos visível.
Sim, o útil e o inútil são estigmas sociais. E sim, somos vitimas mais ou menos indefesas da estupidez.
Rui Carvalho, s. d.
Rui Carvalho, s. d.
quinta-feira, 27 de abril de 2017
Desertos - XXIV - Fotografia: António Caeiro; Texto: Rui Carvalho
A noite aguardava-nos essa ânsia que o mundo acontecesse. Haveríamos ser estranhos e na estranheza virar todas as páginas em sobressalto. Haveríamos ler livros impossíveis, aqueles que no sangue se infiltram e depois de lá não saem. Digo-vos os nomes, sem nada de permeio: A Critica da Razão Pura; O Livro do Desassossego; O Ser e Tempo; A Morte de Virgilio; tudo de Kierkegaard; O Homem sem Qualidades; As Ondas; de Canetti, tudo também; A História de Portugal (do Oliveira Martins); Herberto Helder (a simbiose de todos os poetas, de toda a poesia). E claro está, Platão, Aristoteles, Wittgenstein; e o último livro do mais próximo amigo. Essas cores que me libertam de ser preso. Tudo isso e alguma coisa mais; tudo aquilo que da catástrofe me aproxime.
O inócuo desejo da caverna, de ser junto a Nietzsche, de com ele não enlouquecer jamais. Ser lúcido até à transparência e na transparência aquilatar o inferno de aqui estar encarcerado.
Durante a noite vemos coisas impossíveis. As silvestres plantas, esse eterno abandono junto às sebes. E a impossibilidade de recobro.
Andamos com ambos os pés, um atrás do outro, até ser demasiado tarde. Até ser apenas tempo de todos os passos se extinguirem.
Em redor.
Nada vemos em redor excepto a escuridão, as plantas que a escuridão acende. Um qualquer rasto, uma memória. Os sinais deixados para trás, todos os trilhos percorridos sem que saibamos a miséria que nos habita. Um dia, a vida explodir-nos-á as mãos e não mais teremos dedos com que afagar o corpo.
Tudo é mesmo assim. A coisa mesma e a mesma coisa, tudo é tão efémero quanto tudo o resto.
E,
além do mais:
Era uma vez o Homem.
Fotografia: António Caeiro
Texto: Rui Carvalho
quarta-feira, 26 de abril de 2017
Entrevista a Sebastien Void - XXXIII
XXXIII
Rui Carvalho: a moldagem do húmus do mundo, tal como a referes, implica que sejamos actores e não meros espectadores, que saibamos agir o mundo em vez de nos deixarmos agir pelo mundo. Como se processa esse processo de moldagem?
Void: a moldagem do húmus do mundo implica qualquer coisa similar ao acto do oleiro moldando o barro. Bom, não apenas um acto de olaria, nada que resulte apenas do mero artesanato, talvez uma espécie de cisão entre a olaria e a arte de Geppetto. Sim, o tal Geppetto. O Geppetto do Pinóquio, o criador do Pinóquio. Talvez um acto entre o artesanato e arte no seu sentido pleno. Somente o artista - no seu estado pleno, no seu sentido pleno - está apto a poder moldar o mundo. O artista é aquele que age a realidade. Agindo a realidade, o artista torna-se Actor. O Actor dá vida às suas personagens.
O Actor. Quem é o Actor?
O actor é um vírus, o actor é um vírus que germina e age no interior do tecido social. Um vírus que reage ou age em resposta ou face ao amorfismo característico das restantes células sociais. Contudo, o actor é indivíduo, logo a sua acção sempre se caracteriza por ser um acto solitário e isolado. O agir do actor não é um agir colectivo ou corporativo, não se presta à acção colectiva. O actor não pertence a grupos de acção ou a grupos de pressão. Por conseguinte, a acção do actor não é nem pode ser pandémica. A acção do actor erige-se como chaga. Como chaga que se abre, que se irrompe no seio do mundo e contra o mundo, jamais com o próprio mundo. Ao agir contra o amorfismo social o actor torna-se proscrito, torna-se um ser à margem.
Nesse contexto há uma certa similitude entre a marginalidade do actor e os outros tipos de marginalidade social. Ao estar à margem da comunidade, do que é comum, o actor radica-se no incomum. É essa incomunabilidade que torna a acção do actor incomunicável.
O maior receio da comunidade consiste em deixar-se contaminar pelo incomum. Dai o desrespeito, o desprezo com que o artista é tratado pela comunidade em geral. Dai a incapacidade das comunidades para aceitar e assumir o objecto artístico como algo “seu”. Dai o medo do novo, da mudança. Dai o medo que a arte nos invoque, que a arte nos faça implodir nossas pequenas e medíocres existências.
A arte é inútil e o mundo detesta a inutilidade.
O mundo está forjado no exercício da posse. Nas sociedades modernas ou contemporâneas todo o valor se resume no acto de posse. Bom, é assim desde sempre, desde que o humano apareceu sobre a terra. De qualquer modo, o mesmo acontece com os animais, com os animais irracionais. O acto de posse enforma a peripécia do mundo. Aquele que possui coisas torna-se visível na posse e no acto de pose. Não é despiciendo analisarmos os actos de poder, os actos de tomada de posse. Todos os actos de poder radicam numa tomada de posse. Quando um partido ou um indivíduo vence as eleições ou quando alguém assume um cargo de poder há sempre uma tomada de posse. O ritual de tomada de posse implica uma transferência de poder. Sendo que essa transferência de poder implica o posar, o estar perante as “câmeras” e perante as câmeras assumir que se é alguém. O ser alguém corresponde a um acto de delegação, delegamos num determinado partido ou numa determinada pessoa o poder que advém do sermos muitos.
O mesmo também acontece com o possuir coisas, com a posse de algo que se torna nossa pertença. O humano desembarca-se na pose. Primeiro na posse e depois na pose. Apenas existimos como pessoas quando possuímos algo, quando somos proprietários de algo. A posse e a propriedade são as alavancas que suportam a engrenagem social do mundo. Ao assumirmos a posse de algo tornamo-nos objectos de reconhecimento, tornamo-nos reconheciveis.
Pelo contrário, a arte desapossa-nos, na arte deixamos de ser o centro do mundo. O objecto artístico tem o poder de nos descentrar, de nos tornar outros, de nos deixar levar no âmbito da levitação. Quando contemplamos arte, e o termo contemplar abarca todos os sentidos de exercício do humano, somos levados num processo de levitação, é quase como se perdêssemos pé.
Não sei se alguma vez se deram casos semelhantes, mas é bem possível que um tipo minimamente sensível à arte possa ficar durante dias siderado frente a uma obra de Picasso ou de Kandinsky, de qualquer outro génio. E não, não se tratariam de casos de loucura. Deveria acontecer-nos a todos. Deveríamos ser aptos a deixar-nos permanecer siderados pela arte, pelo objecto artístico. Deveríamos tornar-nos aptos a ver a realidade, não apenas a olhar a realidade. O nosso olhar é um olhar formatado. E é um olhar formatado porque somos desde cedo acostumados a olhar em rebanho. Quando olhamos em rebanho vemos tal qual os outros veem e ouvimos tal qual todos os outros ouvem. O problema é precisamente esse. O problema reside no facto de nos deixarmos ser todos os outros. Quando contemplamos arte deveríamos ser predispostos a estar lá a sós. Nós e o objecto que contemplamos. Sem mais delongas. Nós e a nossa intensa solidão. Somente assim é possível que a arte nos toque. O raio da arte, esse algo que ninguém sabe bem o que é. Porque é que alguém decide destruir a sua vida na fabricação de coisas inúteis? Para que servem as coisas inúteis? Será que? Será que é a arte que é inútil ou somos nós que nos deixamos sorver na inutilidade das nossas estúpidas existências? Que raio de sociedade esta? Que raio de sociedade peneira de tal modo a realidade que somente permite o reconhecimento da estupidez?
segunda-feira, 24 de abril de 2017
domingo, 23 de abril de 2017
Desertos - XXIII - Fotografia: António Caeiro; Texto: Rui Carvalho
Segui a pista do último dos elefantes, aquele que morrerá sozinho e precário como todos os outros. Reconheci-o no respeito, no porte de quem deixará rasto.
Após vários anos acompanhando-lhe o trilho, pressenti-lhe hoje o primeiro indicio de declínio: a fraqueza dos molares. Será essa fraqueza que trairá a solidez dos passos dados, que trará a inevitável dificuldade de deglutição; as plantas e ervas cravadas no chão sem que possam ser sequer tragadas.
Há sempre algo que tentamos ignorar, durante anos, durante décadas, qualquer coisa aquém de toda a dignidade: a progressão horizontal de nossa dentição, como um tapete rolante. Os novos dentes crescem-nos na parte de trás da boca e empurram para a frente os dentes mais velhos, os mais gastos pelo uso. Por fim, os últimos dentes cair-nos-ão e nem já a mais tenra comida lhes servirá de alimento.
Contudo, manteremos intacto o apurado sentido do cheiro, a intensa capacidade para determinar amigos e inimigos. Estaremos ainda aptos ao derrube de árvores, ao enrolar de nossa tromba nas trombas de nossos “irmãos” - qualquer coisa como um apertar de dedos.
Sobretudo, manter-nos-emos espessos. A espessura de nossas peles subtrair-nos-á às balas, à cobiça do marfim.
Ainda assim, não obstante a força de nossas patas firmando o chão, adiando-nos à possibilidade da queda,
sempre soubemos:
a) a luta pela beleza é um acontecimento terrível e o amor das mulheres sempre implicará uma rivalidade - o intenso ódio dos homens;
b) nada nos será útil senão a Arte, toda a inutilidade do mundo;
c) arrastar-nos-emos até ao declínio de todas as forças; não importa quando, não importa onde;
d) tudo acabará talhado em pedra, algum mármore onde conste nosso percurso;
e) nada como os campanários para nos fazer soar a passagem do tempo, alguma catástrofe, algum incêndio perigando o corpo.
Campanários esses tristes lugares onde os elefantes me perseguem.
Fotografia: António Caeiro
Texto: Rui Carvalho
segunda-feira, 17 de abril de 2017
Desertos - XXII - Fotografia: António Caeiro; Texto: Rui Carvalho
Sabe-se, de ouvir dizer - aqui se conjurou a vida. Todas as noites as lâmpadas sobre-aqueceram a ignição das possibilidades, a atmosfera criada em redor. A luz dos candeeiros guiou as almas dos combatentes e o absinto manteve-nos de pé, erguidos contra o antagonismo dos ventos.
Deveríamos ter sido mais comedidos? É provável.
Foi estulto jogarmos contra todas as probabilidades? Talvez.
O mundo pode ser sempre qualquer outra coisa, mas nunca aquilo que queremos que seja. Contudo, nunca somos derrotados enquanto alguma luz persistir. Por isso, não descansem os abutres.
Há sempre alguém pingando sangue.
Há sempre um qualquer solo tingido pela dúvida.
Enquanto a dúvida for a paixão e a beleza o único antídoto contra o mal, aqui virá alguém munido de archotes. Sim, não descansem os abutres, os candeeiros manter-se-ão acesos. Nos mesmos dias, à mesma hora, aqui estará alguém. Poucas almas, é certo; o mundo é imprestável e a estultícia cola-se nas pessoas, entranha-se-lhes como um gás nocivo. Quando um dia for já demasiado tarde, talvez os muitos percebam que rasto nenhum deixaram. É sempre assim. Sempre é demasiado tarde quando todo o mal já está feito.
Ainda assim, não se esqueçam os abutres, os abutres e todos os outros animais de idêntica vileza:
resta-nos esta luz, esta luz que todas as noites reacenderemos. Enquanto esta luz nos restar jamais a beleza vos será rendida.
Fotografia: António Caeiro
Texto: Rui Carvalho
quarta-feira, 12 de abril de 2017
Desertos - XXI - Fotografia: António Caeiro; Texto: Rui Carvalho
Os Livros estão escritos e as aulas serão dadas. Não obstante, o tempo passar-nos-á a perna. Será neste fim de mundo que nossos esqueletos tropeçarão.
Prolongaremos no entanto o cortejo, a aspereza dos corpos tentando escapar o declínio, esticando-nos até algures, o máximo que possa ser.
Seremos então entre as pedras, entre as ervas daninhas que ninguém quer.
O tempo arruinar-nos-á o corpo.
E.
Seja como for.
Seja como for, aqui viveremos como estrangeiros. Nossos melhores amigos serão os mortos, tanto aqueles que ainda vivem quanto aqueles que já morreram.
Desde Heráclito, Arte e Filosofia são para ninguém.
Sim, sabemos coisas impossíveis: o semear das raízes, a degradação do solo, o tempo corroendo-nos. Ainda assim, e acima de tudo: a beleza inscrita nos olhos de quem vê como ninguém.
Uma força nos empurra para dentro da Natureza, para que aí contemplemos o cerne do dilúvio. Os meteoritos caindo em redor, abrindo-nos brechas na carne.
Será aqui.
Será aqui que guardaremos a acuidade das visões, todo o resto que ainda seja de restar.
A revelação.
A revelação.
Os teus lábios nos meus lábios.
O apocalipse, onde quer que estejas ou sejas. Não o fim do mundo, o principio de tudo.
Fotografia: António Caeiro
Texto: Rui Carvalho
domingo, 9 de abril de 2017
Entrevista a Sebastien Void - XXXII
XXXII
Rui Carvalho: se o mundo é em constante devir, se o mundo está constantemente a ser o outro de si mesmo, como se verifica esse atolamento na mesmidade? Como é que a mesmidade acontece num mundo que nunca é o mesmo? Como é que esse atolamento na mesmidade nos mostra o mundo tal qual ele é? Como é possível acedermos à verdade? Como é que podemos aceder a qualquer tipo de certeza, por mínima que seja?
Void: o mundo é a eterna repetição do mesmo. Contudo, nada permanece igual a si mesmo no decurso desse processo de eterna repetição. Basta contemplarmos uma fotografia nossa quando adolescentes ou quando éramos crianças, compará-la com quem hoje somos. Qualquer semelhança é quase mera coincidência.
Somos outros sendo os mesmos que éramos. Há uma identidade que percorre as nossas vidas. É em função dessa identidade que nos erigimos como pessoas. O mesmo acontece com tudo aquilo que nos rodeia. Não obstante o constante processo de deterioração que é imanente ao mundo enquanto tal, há uma identidade que percorre os vários momentos constitutivos do ser a ser-se. A esse processo chamamos devir. O devir é a nossa única realidade. Tudo aquilo a que temos acesso é a essa amostragem do ser a ser-se. Acho que não podemos chamar-lhe “verdade” em sentido pleno. Tudo aquilo a que podemos ter acesso é uma mostragem do mundo. A “verdade” é-nos dada como amostra, é-nos mostrada ou desvelada. Nada nos é dado no âmbito da certeza.
Nossa única certeza é sermos entre o nascimento e a morte.
Somos as várias etapas entre o nascer e o morrer. O que verdadeiramente conta é o modo como nos exercemos no decurso das várias etapas que constituem as nossas vidas. Podemos exercer-nos melhor ou pior. Podemos nem sequer exercer-nos. A maioria das pessoas jamais se exerce ou exerceu. O que conta é o modo como tentamos ou não tentamos moldar o mundo. Podemos falar da realidade como sendo uma espécie de húmus que pode ser por nós moldado. Podemos tornar o mundo um pouco mais belo ou um pouco mais estúpido. Isso depende do modo como nos exercemos, do modo como cada um de nós se exerce.
É fundamental que nos deixemos atolar na mesmidade, que nos deixemos tocar pelo tédio, pelo tédio resultante da eterna repetição do mesmo. Que nos deixemos rodopiar pelo tédio, que o tédio nos impregne na vontade de mudar o mundo, de moldar o mundo na beleza. Sim, o húmus do mundo é moldável. É fundamental que possamos moldar o mundo no sentido da beleza, que constantemente nos exerçamos contra a estupidez, a cada passo dado. É fundamental que não nos deixemos ser gente meramente quantitativa. Que nos ergamos contra o mal da estupidez, contra o homem quantitativo, contra o homem meramente quantitativo, contra um mundo meramente quantitativo. A estupidez é deixarmos que nos moldem, a nós e ao mundo, como entidades meramente quantitativas.
sexta-feira, 7 de abril de 2017
Entrevista a Sebastien Void - XXXI
XXXI
Rui Carvalho: Segundo afirmas, o inconformismo é um sintoma de algo que classificas como doença da verdade. Estamos então perante uma patologia? O inconformado está doente? Está doente e precisa ser curado?
Void: O doente de verdade sofre a patologia da inadequação. Ora, o que é isso a que chamamos de inadequação e porque é que se trata de uma patologia? Acontece que ao inadaptado não lhe chega a realidade das coisas a ser. O sendo das coisas é volátil, dá-se-nos a uma velocidade estonteante. Tanto a velocidade quanto a volatilidade são empecilhos ao conhecimento. É impossível conhecer aquilo que está constantemente a ser de várias maneiras e modos. O crescimento e a deterioração da matéria são sinónimos ao mundo. Contudo, como aceder à verdade daquilo que é o seu próprio deterioramento?
Inadequado às estratégias da mundanidade, o doente de verdade necessita adquirir um foco de sentido, necessita ter a realidade parada perante si de modo a poder auscultá-la. Para que tal aconteça, o primeiro passo é estar só. Somente na solidão a realidade nos pára. Junto com o ruído de todos os outros é impossível a concentração. O doente de verdade precisa da lonjura dos outros para estar perto da paragem do mundo. O doente de verdade é pois no âmbito da solidão. É só e quer estar só. É no decurso dessa vivência da solidão inerente à paragem do mundo que se verifica o acontecimento fulcral do tédio. O tédio. O tédio é a sintomatologia do mundo a ser-se, sendo que essa sintomatologia do mundo a ser-se é sentida no cerne da vida do doente de verdade. A vida é precisamente o tédio a acontecer-nos. A sintomatologia do tédio deriva do sentir a constante e eterna repetição do mesmo. É justamente a vivência dessa sintomatologia do tédio a acontecer-nos que enforma o artista enquanto tal. O auscultamento da realidade é o oficio do artista. Refiro o artista enquanto criador, enquanto ser que age a realidade, que a molda consoante novas formas de ser e de pensar. O artista molda a entediante realidade numa qualquer outra coisa mais excitante. O primeiro movimento criativo consiste no atolamento na mesmidade. Atolado na constância do ser mesmo das coisas o artista entra em turbilhão. É precisamente aí, no decurso do turbilhamento, que ocorre a criatividade. Na criatividade o artista gira em turbilhão. É aí que encontramos a génese do acto criativo.
É neste contexto que o artista se torna actor. O actor é aquele que age a realidade, aquele que não se conforma com aquilo que o circunda e que não se conformando com aquilo que o circunda o transforma ou pretende transformar numa outra coisa.
Sim, até certo ponto podemos dizer que o inconformado é uma pessoa doente. É uma pessoa doente porque não consegue adequar-se à realidade tal qual ela é. Contudo, é justamente esse inconformismo que molda o húmus do mundo, que transmite ao mundo o grau de excitação que nos impede de morrer de tédio. Sem arte, sem artistas, sem doentes de verdade, qualquer humano com pelo menos três neurónios a funcionar ao mesmo tempo rapidamente morreria de tédio. Não, não há cura para a doença da verdade. Há a estupidez, mas a estupidez não nos cura de nada. Muito pelo contrário, a estupidez é a origem de todo o mal.
quarta-feira, 5 de abril de 2017
Desertos - XX - Fotografia: António Caeiro; Texto: Rui Carvalho
Outrora a luz era outra!
Percorremos os inúteis túneis onde sabíamos nada haver, onde mais ninguém havia.
Os trilhos degradam-se, meu amor, como toda a matéria… de qualquer modo, de que nos serve saber o terror dos precipícios se neles não embarcarmos?
Esta luz apagar-se-á. Ir-se-á apagando.
Não o desejo. O desejo não se apaga nunca. Pelo menos enquanto possíveis formos.
A vida é qualquer outra coisa que nos move para além das coisas dadas e o mundo não pára a não ser aqui! Este lugar onde a pele nos tocamos as várias estações e apeadeiros.
Nosso destino é percorrer o mundo. Nunca sairmos de casa.
Bom, a não ser para… matarmos a sede. Acompanharmos o Minotauro no labiríntico percurso.
Que sabiam os Gregos que nós não sabemos?
Porque nos enterramos na pequenez de não saber um pingo de História?
Porque não sabemos a Lua Azul onde os poetas moram, onde todos morreremos?
Sim, outrora a luz era outra.
Outrora a luz era outra e a vitória é tardia. Chegar-vos-á quando forem nossos filhos condenados.
Tudo é metafísica, meus amores.
Lips like sugar. Sugar kisses!
Subscrever:
Mensagens (Atom)